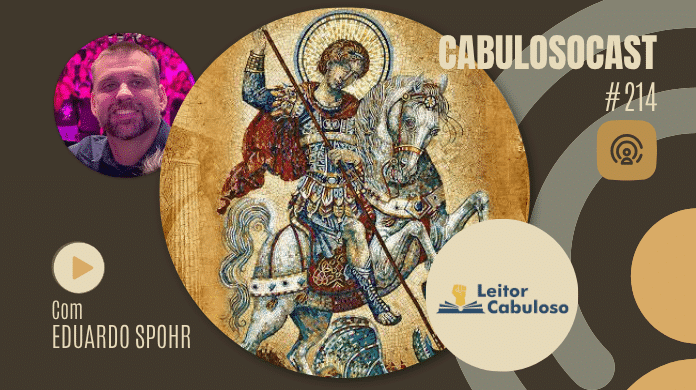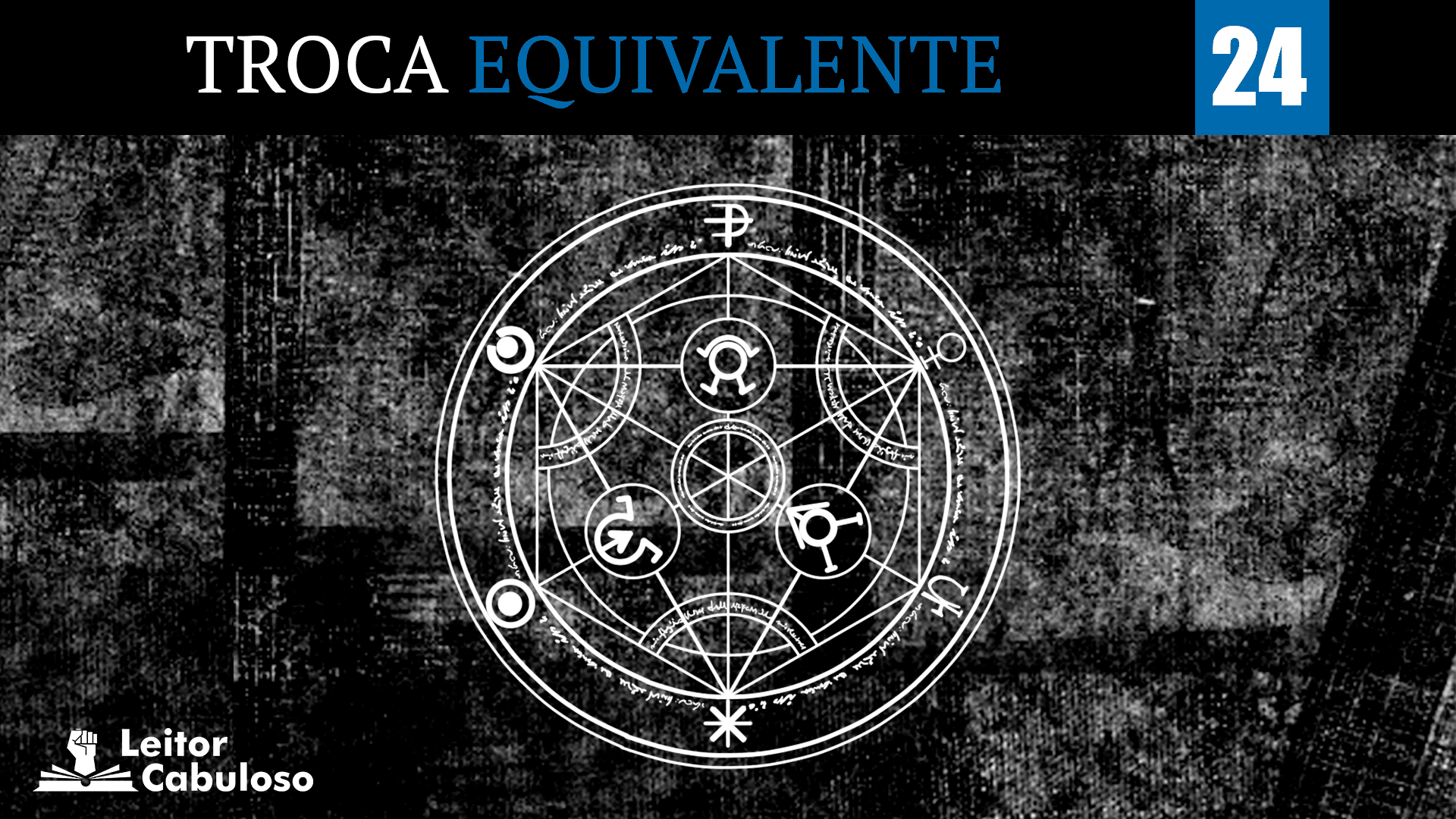Conheci Charlotte alguns meses antes dela desaparecer. Nunca cheguei a compreender o que de fato aconteceu a ela, o motivo do seu desaparecimento ou mesmo como ela o fez. Apenas sei que ainda sinto sua presença às vezes.
Fazia cinco meses que eu havia me mudado para o Rio. Boa parte do meu tempo era dedicada ao cultivo de roupas, tarefa que eu realizava com a ajuda do André. Estava ainda me adaptando ao calor da cidade e qualquer um que entrasse na minha loja encontraria a geladeira estocada com latas e mais latas de Sergipe, aquela bebida de suco de manga e chá que havia se tornado essencial para minha sobrevivência ao verão carioca.
Em um dia particularmente quente, eu estava cuidando do cultivo de cinco jaquetas de tecidos diversos, modelos inspirados nas antigas M-65 que os punks de Santiago e Auckland adoravam. Eu bebia um Sergipe, sentindo a bebida gelada espantar o calor como um taser. Foi quando André apareceu descendo as escadas, fazendo um barulho dos infernos sobre as suas sandálias de plástico.
{Mariana,} ele disse. {O que está fazendo?}
Eu olhei por cima do ombro. “Cuidando da encomenda de Bogotá.”
Ele se aproximou, inclinando diante do biorreator onde eu cultivava as jaquetas. Com quase dois metros, ver aquele droide se abaixar era quase como assistir a uma árvore de tronco amarelo dobrando ao vento. A enorme câmera que ele tinha por cabeça moveu verticalmente, exibindo o adesivo de caveira que eu havia colado ali.
{Elas estão crescendo bem,} ele comentou, apontando para as jaquetas.
“Não é?” eu disse e sorvi do Sergipe. “Mantenha os níveis de nutriente altos, André. É o que eu sempre digo.”
Ele bateu um dedo na cabeça metálica, reproduzindo o gesto de alguém a pensar. {Você precisa ir lá em cima comigo.}
“O que aconteceu?”
{Problemas,} ele disse. {O híbrido está se comportando mal.}
“De novo?” eu perguntei.
Larguei a lata em cima do biorreator das jaquetas e fui com André ver o que estava acontecendo.
A casa que eu alugara no Santa Teresa era pequena, mas com dois andares eu tinha espaço suficiente para desenvolver o meu trabalho. E isso era fundamental. Apesar de cultivar poucos modelos, cada um deles era feito de um tecido diferente. E tecidos diferentes demandam tratamentos diferente. Para se ter uma ideia, as jaquetas M-65 precisam de um controle rígido dos níveis de dióxido de carbono e estímulos biológicos, enquanto os quimonos são estimulados tanto quimicamente como mecanicamente; já as huaraches apresentam um padrão de crescimento celular próprio, e os vestidos camiseiro exigem uma temperatura quase antártica durante a sua formação.
Mas, de todos os tecidos com que eu trabalhava, o híbrido era o que demandava um cuidado mais especial (quase psicológico, eu diria). Ao mesmo tempo em que era necessário manter o nível de umidade constante e aplicar estímulos químicos e biológicos, eu também tinha de estar atenta às variações de humor desse tecido. André sempre me corrigia dizendo que se tratavam apenas de espasmos, mas eu preferia encarar a partir da perspectiva de temperamentos; ver o híbrido como uma criança mimada ou uma pessoa em depressão me ajudava a pensar o tempo todo nele e ir sempre checar se tudo estava correndo bem. Era um trabalho exaustivo, mas as peças que eu podia criar com esse tecido eram gloriosas.
Eu havia separado um lugar especial na casa para ele: um quarto com sacada, por onde o sol entrava vagaroso todas manhãs e se podia até mesmo sentir um pouco da brisa do mar. A visão dali era fantástica, os prédios se assemelhando a confeitos salpicados nas encostas verdes do Rio.
Fui em direção ao biorreator. Era o mesmo usado em hospitais para o cultivo de corações e havia me custado uma pequena fortuna. Mas valia cada centavo. E eu confirmava isso toda vez que entrava no quarto e era recebida pelo brilho azul e dourado do híbrido.
Passei a ponta do dedo sobre o vidro, sentindo uma lenta vibração como se houvesse acariciado um gato. O híbrido estava calmo, expandindo e regredindo como um pulmão a trabalhar em câmera lenta.
“Ele parece bem para mim,” eu disse, voltando para André.
André se aproximou e deu a volta no biorreator. Ele coçou de novo a cabeça na sua tentativa de imitar um humano. {Há exatos três minutos ele estava se comportando daquele modo estranho.}
Eu ergui uma sobrancelha. “Estranho como?”
{Ele tinha se desenrolado e estava todo agitado. Até a cor havia mudado.}
Bug, eu pensei, sentindo uma gota de suor descer pelas costas. “André… será que você não está vendo coisas?”
O droide olhou para os lados, movendo a câmera, perdido como um menino de dois metros.
“Me lembre de irmos na assistência amanhã, tudo bem?”
{Claro, Mariana.}
“E dê uma conferida no biorreator das M-65 para mim. Acho que a mangueira de CO2 está vazando.”
Ele balançou a câmera e desceu as escadas.
Soltei um suspiro.
Não era a primeira vez que André agia assim. Em outras ocasiões ele havia enxergado pessoas andando pela casa, túneis dentro da geladeira ou avenidas percorrendo o céu. Isso não era de se espantar, afinal, ele tinha quase a minha idade e um droide de vinte anos já era praticamente um velhinho. Sua memória urrava para lidar com a quantidade de informações que se acumulava dia após dia, fazendo com que erros de leitura e interpretação fossem comuns.
“Pobre Andréoide”, murmurei, encarando o híbrido dentro do biorreator. Ele já havia adquirido um tamanho razoável — cerca de um metro de largura por quinze de comprimento — e estava enrolado em si mesmo como um pedaço de fazenda viva ou um rocambole de pele sintética azul. Naquele momento eu não tinha ideia do que fazer com ele, nem podia imaginar no que ele se transformaria alguns meses depois.
Abri a porta da sacada. Um silêncio imperava no ar, entrecortado apenas pelos sons de buzinas distantes e o zumbido de televisões sintonizadas em alguma partida de futebol. Havia uma casa do outro lado da rua, uma pensão cuja laje ficava paralela com a minha sacada.
Foi quando vi Charlotte pela primeira vez. Ela apareceu usando um biquíni de crochê laranja e uma canga que lhe cobria parte das pernas. Seus cabelos pretos estavam presos por um par de hashis e sua pele possuía um brilho turvo, como óleo sobre água. Ela tirou a canga e se deitou desajeitadamente sobre a espreguiçadeira, uma modelo de Lucian Freud sob o sol do Rio.
Nossos olhares se encontraram apesar dos óculos escuros que ela usava. Eu sabia disso pelo modo como ela colocou a perna por cima da outra, exibindo a prótese com orgulho para mim. Seu rosto, levemente inclinado, estava virado na minha direção.
* * *
Ela veio a aparecer na loja no dia seguinte. Pouco depois das dez horas, André me chamou, a reclamar de novo do híbrido. Fui com ele até o quarto, e, para o meu espanto, o híbrido estava mesmo com um péssimo temperamento.
Ele se debatia contra as paredes do biorreator, espichando-se contra o vidro; sua cor tinha mudado do belo azul dourado para um cinza pálido e seus poros estavam abertos como os de um animal encurralado.
Fechei a porta da sacada e corri para acender o conjunto de LEDs que havia instalado por cima do biorreator. Como eu esperava, a luz roxa acalmou o híbrido, que retrocedeu de volta. Havia aprendido o macete dos LEDs com um designer de jaquetas de Amsterdã, que, além das roupas, também cultivava orquídeas.
Mas eu tinha aprimorado a sua técnica: junto com a luz calma do LED, eu introduzia The Big Ship, de Brian Eno. Liguei o aparelho de som. A música começou aos poucos a se desenvolver no quarto escuro como uma terceira presença. Era quase hipnótico assistir ao híbrido enrolar-se de volta para o seu pedestal ao som dos instrumentos que se sobrepunham uns aos outros em camadas de melodia.
Ficamos eu e o droide a observá-lo, tensos como pais de primeira viagem zelando o sono de um recém-nascido.
{Eu falei,} André disse em um sussurro eletrônico.
“Verdade,” sussurrei de volta.
{O que acha que deu nele dessa vez?}
“Não faço ideia,” respondi. “Mas vou até o Walmart comprar alguns cilindros de oxigênio. Não podemos nos fiar apenas na ajuda do senhor Eno.”
Desci as escadas, mas antes de sair, voltei alguns degraus. “André…”
O droide voltou a câmera para mim. {Sim, Mariana?}
“Pode cancelar a visita à assistência,” eu disse e saí.
Voltando do Walmart, encontrei André e Charlotte no térreo, parados diante de um biorreator onde um corset de pele de lagarto crescia. André tentava apresentar meus produtos a ela, sem muito sucesso.
{Ela chegou,} disse o droide, e Charlotte olhou em direção à porta.
Aproximei dos dois, notando a lata de Sergipe entre os dedos dela.
{Esta é Mariana,} ele comentou, as mãos postas uma sobre a outra. {Ela é a dona da loja.}
“Olá,” eu falei e olhei para o droide. “André, pegue as compras no carro, sim?”
O droide acenou com a câmera e saiu pela porta.
Charlotte lançou um olhar ao redor. “Perguntei sobre as suas roupas, mas o droide não me pareceu saber muita coisa”, ela disse em um sotaque espanhol.
Coloquei minha bolsa sobre a mesa ao lado do biorreator das huaraches. “André é um excelente ajudante,” eu respondi. “Mas falta um if else de vendas no código dele.”
Ela riu divertida. “Eu percebi.” Ela usava um vestido preto, que lhe deixava os braços brancos à mostra. Vi um pequeno Mickey dançar em sua mão, enquanto cenas de algum filme de Tarkovsky percorriam sua pele. Ela girou o rosto para o lado, exibindo uma cicatriz estrategicamente colocada no queixo.
Aproximei dela. “Se incomoda se eu ver?” perguntei, apontando para a sua mão.
“Sem problemas,” ela disse, erguendo a mão como a um cavalheiro.
Segurei-a pelos dedos. Mickey havia dado lugar a um casal em trajes de banho, acessando um computador antigo em uma praia.
“Videoskin,” eu disse. “Nunca vi um desses de perto antes.”
Ela retirou a mão delicadamente. “No Uruguai chamamos de videopiel.”
Eu assenti, levemente envergonhada. “Aqui no Brasil temos essa mania boba de manter palavras estrangeiras.”
“Acho bonito. Torna a língua mais aberta, mais mutante,” e se colocou a caminhar.
Respirei aliviada. Algo na presença dela tornava o ar esmagador. O que era estranho para uma garota que não devia pesar mais que cinquenta quilos.
“Está procurando alguma peça em especial? Uma calça ou uma jaqueta?” perguntei, desviando o rosto dos geeks de praia.
Ela moveu os olhos escuros. “Não, mas vi no sítio da sua loja que você trabalha com híbrido. É verdade?”
“Sim, eu trabalho com híbrido.”
“E você tem alguma roupa feita com esse tecido? Só para eu ver como fica.”
“No momento, não,” eu disse. “Mas estou cultivando alguns metros lá em cima.”
Seu rosto se iluminou. “Será que eu poderia ver?”
Eu respondi que sim e a acompanhei até as escadas.
Chegando ao quarto, acendi o conjunto de LEDs. O híbrido estava calmo em seu pedestal.
“Tivemos um pequeno incidente hoje mais cedo,” eu disse.
Ela entrou. “Por isso a luz roxa?”
Eu assenti. “Ajuda a acalmar o híbrido.”
Ela foi até o biorreator e pousou um dedo sobre o vidro. “Pobrezinho.”
Apesar da penumbra no quarto, vi os vídeos percorrerem os braços e antebraços dela como serpentes de luz. Houve um estalo no ar. Uma pequena faísca emanou do biorreator, e o híbrido desenrolou-se como um cassete desregulado, vibrando contra o vidro à maneira de uma bandeira hasteada. A mulher lançou um olhar para mim, lábios pressionados como uma criança travessa.
Sem esperar que a situação piorasse, corri até o aparelho de som, servindo-me novamente da ajuda do senhor Eno. Vi o momento exato em que o híbrido retrocedeu, rebobinando de volta ao formato de rolo.
Ela olhou para mim sem entender, absorta entre o biorreator e o estéreo de onde o grande navio de artrock inglês estava partindo.
“Brian Eno acalma ele?” ela perguntou.
“Sim,” eu disse, apoiando-me sobre o aparelho de som.
Ela sorriu ao ouvir aquilo e lançou um olhar maternal para o biorreator. “Quem diria… um tecido com bom gosto.”
“Fascinante, não é?” comentei, abrindo as portas da sacada e deixando o sol de meio-dia entrar no quarto. Do outro lado da rua, a espreguiçadeira bronzeava solitária sob o sol.
“Então,” voltei o rosto. “Está há muito tempo no Rio?”
“Cheguei na segunda-feira,” ela respondeu, piscando para o sol.
“Também não sou daqui. Mudei para cá há pouco mais de um ano.”
Ela assentiu, movendo o queixo cicatrizado. “Eu vim a trabalho, na verdade,” ela falou e disse que se chamava Charlotte e que era uma artista do corpo.
“Começo a me apresentar hoje no Ninho. Por que não vai lá conferir?” ela falou, os vídeos em sua pele movendo como um friso animado. “Minha performance começa às nove.”
* * *
Cheguei no Ninho às sete.
Localizado na Lapa, o Ninho era uma antiga masmorra de sadomasoquismo que tinha sofrido uma espécie de reengenharia cultural. Lá agora funcionava uma galeria de arte, mas vários acessórios de couro do seu passado foram mantidos na decoração; a referência era tão explícita que eu quase podia ouvir os murmúrios e choros abafados de empresários gordos ecoando pelas paredes.
Havia um bar instalado num dos saguões da galeria. Fui direto a ele e pedi um fernet com Coca a um bartender amordaçado. Recebi a bebida e paguei, torcendo para que meu cartão não fosse recusado. Seria constrangedor ter de discutir com um homem usando uma bola de 4 cm de diâmetro na boca.
Fiquei com as costas voltadas para o bar e dei uma olhada no saguão. O lugar estava tomado por um grupo de pessoas segurando celulares e drinques. Elas observavam em silêncio um jovem pendurado nu a um pau de arara. Ele gemia e tinha sensores por todo corpo, o rosto conectado a óculos de RV. Em uma tela ao seu lado, via-se um porão sujo, onde apenas uma lâmpada balançava mórbida no ar.
“O que está acontecendo?” perguntei.
“Uma performance,” o bartender respondeu, balançando os ombros.
Beberiquei da bebida. Estava boa. “E qual o nome dela?”
Ele levou um dedão ao queixo, esfregando o lábio inferior. “’DOI-CODI de bolso’ ou algo assim. O rapaz ali está pendurado desde as duas da tarde.”
Balancei a cabeça. Um homem corpulento surgiu na tela. Ele tinha um cigarro nos lábios e ares de poucos amigos. Já imaginando o que viria em seguida, desviei os olhos e resolvi me dedicar apenas ao Fernet.
Às nove em ponto Charlotte apareceu no saguão. O pau de arara já havia sido desmontado, e o silêncio que se estabeleceu com a presença dela foi ensurdecedor; quase pude sentir os murmúrios morrendo um a um, enquanto ela lançava olhares implacáveis em direção às pessoas.
Eu estava no meu segundo Fernet com Coca e notei o bartender amordaçado ao meu lado. Ele tinha os olhos fixos em Charlotte e deslizava um pano branco no balcão como se estivesse a polir uma arma.
Charlotte usava um qipao longo e verde, que parecia pulsar sob a luz da galeria. Uma música brotou de caixas de som e, como que vivo, o vestido se desprendeu do seu corpo sem que ela movesse um dedo sequer. Por baixo, ela estava nua, e pude ver que os implantes de videoskin deixavam intocado apenas o seu rosto. Nem mesmo seu pé havia escapado. Todo o corpo dela era uma grande e única tela, flashes pulsando em seu torso como uma sirene.
Os olhos das pessoas estavam grudados nela. Pelo menos foi o que pensei, pois os meus estavam. Charlotte se movia de maneira fluida e hipnótica, sua pele exibindo vídeos que se sobrepunham uns aos outros como fotografias em dupla exposição. Vi palmeiras em uma praia distante, devassadas por um sol indiferente; lobbies de hotéis vazios, onde a única coisa viva era o reflexo das lâmpadas nos pisos de mármore encerado. Cenas de um filme em preto e branco, em que a chaminé de uma casa sem paredes estava exposta a um céu cinza, davam lugar a blocos de pele apertados contra uma superfície de vidro, a pele formando padrões de carne semelhantes a espirais amarelas. As imagens eram entrecortadas por gravações de outras performances de Charlotte, e, ao vê-las, a única coisa que veio em minha mente foi um Clive Baker chic, algo como Hellraiser sob o sol privilegiado de Ko Kut. Belo e obscuro, excitante e aterrador ao mesmo tempo.
Percebi que Charlotte tinha conseguido, de alguma maneira, manipular os celulares das pessoas. Por mais que elas tentassem desviar os olhos da performance, acabariam por topar com os mesmos vídeos circulando nos seus próprios dispositivos. Charlotte queria atenção e não havia como negar isso a ela.
Ao final da performance, ela recolheu o qipao e saiu do palco, liberando as pessoas de sua presença levemente tirânica. A sua saída teve o efeito de uma rolha tirada de uma garrafa; as pessoas voltaram a si e para suas bebidas, sem entender ao certo o que acabara de acontecer.
Com olhos petrificados, encarei o bartender. Ele esboçou um sorriso mole por baixo do couro na sua boca e apontou para o meu copo, perguntando se eu queria outro fernet.
* * *
{Impressionante,} André comentou, enquanto assistia ao vídeo. Ele estava consertando o sistema de alimentação do biorreator onde estavam as bawaws, peças que eram um mix entre thawbs e bermudas e que tinham grande saída na minha loja. Sem o líquido que as envolvia, as bawaws pareciam pássaros molhados. {O que é isso na pele dela?}
“Videoskin,” respondi, segurando o celular para ele. Uma gravação em vídeo da performance de Charlotte havia aparecido no meu celular logo após ela ter saído do palco. Como eu havia suspeitado, Charlotte manipulara os dispositivos das pessoas no Ninho. Agora, como ela fez isso era algo que eu não fazia ideia.
{Ela lida bem com plateia.}
Eu assenti. “E sabe o que é estranho?”
{Estranho: fora do comum; desusado; anormal; singular—}
“Não, André,” eu o cortei, guardando o celular no bolso. “Não perguntei o significado da palavra estranho. Estou falando da mulher do vídeo.”
{Eu… ainda me confundo nas perguntas.}
Dei tapinhas na lataria dele. “Não se preocupe… O que eu ia dizer é que eu não baixei esse vídeo. A artista, a que você viu na gravação, de alguma maneira o enviou para mim. Para mim e para todo mundo que estava na galeria, ao que parece,” eu disse, afastando um pernilongo. “Além disso, eu acho que ela exerce algum tipo de influência sobre o híbrido.”
{Por que acha isso?}
“Quando ela esteve aqui ontem, ela pediu para vê-lo”, respondi. “Ela veio aqui ontem, lembra disso?”
{Sim, Mariana,} disse André, colocando um sensor sonda de volta ao biorreator.
“Pois bem… Eu achei que não seria nada demais, então a levei até o quarto do híbrido. Então algo estranho aconteceu. Quando ela se aproximou do híbrido, ele ficou louco. Parecia querer atacá-la. O que acha disso?”
O droide não respondeu de imediato. Alguma coisa na cozinha havia lhe chamado a atenção.
{Híbridos e celulares têm sensores}, ele disse após um tempo. {Isso talvez explique como essa mulher consegue controlá-los.}
“Talvez,” respondi. “Mas no caso do híbrido não me pareceu intencional.”
{Como assim?} perguntou André, sem olhar para mim.
“Não sei… Pareceu mais uma reação, uma reação do híbrido à presença dela, entende?” eu disse, mas André ficou em silêncio.
“André… Está me ouvindo?” perguntei. Ele estava quieto, sua câmera voltada para a cozinha. “O que foi?”
{A dona Carmem…}
“O que tem a minha mãe, André?”
Ele apontou para cozinha. {Ela veio lhe visitar?}
Olhei em direção à cozinha. Não havia ninguém ali. Outro bug, pensei, voltando o rosto. “André… Faz cinco anos que mamãe nos deixou.”
A sua câmera abaixou. {Verdade.}
“Sabe,” eu disse, agachando perto do droide, “eu às vezes gostaria de ter bugs como os seus.”
Charlotte apareceu pouco depois. Eu estava fechando uma compra quando a vi entrando na loja. Ela carregava uma bolsa de praia.
“Você foi embora cedo ontem,” ela disse, erguendo uma sobrancelha. “O Felipe e eu improvisamos uma performance juntos.”
“O rapaz do pau de arara?”
“Ele mesmo,” ela confirmou. “Foi maravilhoso.”
“Duvido que tenha sido melhor que o seu solo,” respondi, deixando o notebook de lado. “Mostrei para o André um trecho do vídeo que você enviou. Ele gostou bastante.”
Ela fez uma expressão de dúvida, então disse: “Ah, está falando do suvenir? Fico contente que ele tenha gostado.”
Eu a encarei. Ela vestia uma saia verde musgo e sandálias que pareciam feitas do couro de algum animal alienígena. Sua pele estava quieta, nenhum frame percorrendo a epiderme. “Como você fez isso?” perguntei.
“Do que está falando?”
“Do vídeo. Como você conseguiu enviá-lo para o meu celular?”
“Ora, rede sem fio,” ela disse, colocando a bolsa a minha mesa. “Minha pele detecta dispositivos abertos e envia os arquivos que eu quero.”
Pensei em argumentar, dizendo que ela, na verdade, invadia dispositivos. “Então o videoskin obedece aos seus comandos?”
“Pode-se dizer que sim,” ela respondeu.
“Como?”
Ela deu uma risadinha. “Pense em mim como um Doutor Octopus controlando seus tentáculos, sim?”
“Está certo,” eu assenti e apontei para a bolsa. “Vai à praia?”
“Vou,” ela disse após uma pausa. Tirou os óculos escuros, olhos mais escuros ainda me encarando. “Está muito ocupada?”
“Só fechando uma compra para a loja. Por quê?”
“Porque eu não quero ir à praia sozinha. O Rio é lindo, mas ouvi dizer que é violento.”
Deslizei os dedos na bolsa dela. “Posso ir com você.”
“Mas e quanto à sua loja?”
“A maioria das minhas vendas é online. Além disso, minhas roupas são exclusivas. Se o cliente estiver mesmo interessado, ele volta.”
“Ótimo,” ela disse, exibindo a cicatriz no queixo. “Estoy lo–ca para conhecer Ipanema.”
Passamos a tarde no Posto 8, entre mergulhos no mar e latas de Sergipe. Charlotte e sua pele causaram uma verdadeira sensação na praia. Os banhistas se aproximavam dela, tiravam fotos e gravavam vídeos como se estivessem diante de uma celebridade ou de uma obra de arte. Parecia que todos conheciam o seu rosto de algum lugar, menos eu. Uma hora, quando saí do mar, vi um ator da Globo tentando entabular uma conversa com ela. O galã se sentou na areia quente, exibindo o corpo de novela para Charlotte, que apenas sorria displicente. Ela lançou um aceno para mim ao me ver.
À noite, ficamos a conversar no seu quarto na pensão. Charlotte me contou que, apesar de ter nascido no Uruguai, passara boa parte da infância viajando pelo mundo. Seu pai era consultor de uma multinacional e, como sua mãe os abandonara quando ela tinha cinco anos, os dois estavam sempre a viajar.
“Quartos de hotel têm cheiro de casa para mim,” ela falou, abraçada ao travesseiro como uma adolescente.
Ela disse que começou a se interessar por modificação corporal aos quinze anos, logo após um acidente de carro que sofrera com seu velho em Mumbai. O pobre homem tinha ficado arrasado quando os médicos lhe disseram que teriam de amputar a perna esquerda da filha, mas ele mal sabia que, com o passar do tempo, ela iria aprender a gostar do seu novo corpo.
Desde então, seguiu-se uma série de procedimentos cirúrgicos, lacerações e tatuagens. A última delas, ela me mostrou, era uma pequena frase na parte inferior do pulso.
“Memento mori,” eu li. “Significa ´lembre-se da morte`, não?”
Ela inclinou o rosto, deixando os cabelos escorrerem como um líquido negro. “Isso. Uma expressão que as pessoas da Idade Média gostavam de repetir. Uma forma de se lembrar que a morte é uma presença constante.”
Eu assenti, olhando para o escrito por um tempo. “Ou de se dizer que a vida é curta. Que devemos aproveitá-la,” eu disse. “Digo, se você não acredita em céu ou inferno.”
A cicatriz em seu queixo moveu levemente para o alto quando ela sorriu. Eu não havia me dado conta inicialmente, mas enquanto conversávamos, a pele de Charlotte exibiu uma série de imagens desconexas, vídeos de gazelas saltando sobre uma estrada, modelos seminuas correndo alegres em um descampado, pias a transbordar e um halo de luz rasgando um céu nublado. O silêncio entre nós duas cresceu, tornando as imagens ainda mais presentes; por um momento, a única coisa em que pude pensar era que tipo de música seu corpo seria capaz de emitir.
* * *
Nas semanas que se seguiram, eu continuei a acompanhar Charlotte em suas apresentações no Ninho. Ela era como um mestre Wuxia, ágil e leve, praticando algum tipo de taolu da pele. A cada noite, a galeria ganhava um público diferente, outras pessoas, outras mentalidades. Apesar disso, o efeito hipnótico que Charlotte exercia sobre cada uma delas parecia crescer.
O mesmo se podia dizer das roupas que eu cultivava. O que havia iniciado com o híbrido se estendera a praticamente toda a minha coleção. Quando Charlotte colocava os pés na loja, as roupas se viravam em direção a ela, tensionadas por uma força maior como um grupo de girassóis diante do sol. Ao menos era um comportamento brando quando comparado ao do híbrido, que continuava a reagir perante Charlotte de uma maneira estranha, tensa, violenta.
Mas foi próximo ao Carnaval que ela veio com a ideia daquele vestido. Era um sábado de manhã e eu a havia levado para assistir a um ensaio aberto da Portela. Enquanto caminhávamos juntas por entre os tamborins e agogôs, eu podia ver o brilho nos seus olhos.
“Nunca vi nada igual,” ela comentou, tentando acompanhar o movimento das baquetas. Para alguém que já havia morado em toda parte do mundo, isso devia ser algo difícil de se dizer.
Acho que ela acabou sendo inspirada pela vestimenta intrincada da Porta-Bandeira. Com um copo de cerveja na mão, eu a chamei para dançar, mas Charlotte estava compenetrada; seus olhos estavam voltados para os movimentos daquela enorme mulher negra, girando e rodopiando como uma guerreira de Iansã, o suor acima dos lábios como um desafio lançado em direção à plateia de gringos e ricos ao seu redor.
Na volta para casa, Charlotte não disse uma palavra. Acostumada a vê-la agitada e falante, eu havia até me preocupado.
Naquela noite ficamos acordadas até tarde, conversando e bebendo um vinho branco que ela havia comprado. Eu acordei durante a madrugada com sede, Charlotte dormindo ao meu lado. Notei um brilho e vi a Porta-Bandeira dançando nas costas e nos braços de Charlotte. De algum jeito a pele — ou a tela implantada em sua pele — parecia ser capaz de exibir o conteúdo dos sonhos de Charlotte.
Fui à cozinha pegar um pouco de água e, quando voltei, Charlotte não estava na cama. Sem entender, eu procurei por ela na casa, encontrando apenas André em stand by, sentado no chão perto do banheiro. Um fio ligava seu pescoço à tomada.
Ouvi um barulho vindo de um dos quartos do segundo andar. Antes mesmo de subir as escadas, eu já sabia de qual deles vinha o barulho.
Quando cheguei ao quarto onde ficava o híbrido, deparei-me com Charlotte, a porta da sacada aberta, deixando uma lua prateada varar o quarto com sua luz. A pele de Charlotte era uma profusão de aviões em chamas, máquinas a trabalhar e desfiles de carnaval. À sua frente, o híbrido crescia contra o vidro do biorreator, gordo e inchado como uma nuvem azul presa em um aquário.
Notando a minha presença, ela virou o rosto e sorriu. Havia um grande “Eureca” em seus dentes.
* * *
De manhã, durante o café, ela apareceu na mesa com um pedaço de papel em mãos.
“O que acha?” ela disse, mostrando o esboço de um vestido. Ela passara boa parte da madrugada desenhando ele.
Tomei o papel em mãos, enquanto sorvia meu café. Havia uma falda e tantas reentrâncias que o desenho se assemelhava mais ao esboço de uma armadura do que ao de um vestido, algo vindo de algum estado germânico do século XVI.
“É bastante complexo,” eu disse.
“Se você não conseguir fazer, eu procuro outra pessoa que possa.”
“De jeito nenhum,” eu respondi, afastando o papel das mãos dela. “Aguarde e confira.”
Começamos no mesmo dia. A primeira coisa a se fazer era tirar as medidas de Charlotte. Essa era a parte fácil, bastando ela ficar parada enquanto eu escaneava o seu corpo. Depois de passar os dados para o computador, era hora de criar o modelo.
Foi um trabalho minucioso e complexo, que exigiu bastante do meu conhecimento de modelagem. O nível de dificuldade ultrapassou ao das M-65, cuja parte em CAD me tomou três dias na primeira vez que sentei diante do computador para projetar uma dessas jaquetas. A diferença é que para as M-65 eu podia encontrar um ou outro arquivo online para ajudar. Já peças feitas sob medida — como o vestido de Charlotte — exigiam que eu partisse do zero, modelando desde os detalhes de caimento e ajuste até a velocidade de cultivo.
Mas a parte da modelagem em si não me preocupou. O fato de Charlotte ter insistido para que eu usasse o híbrido como tecido é que foi a minha verdadeira preocupação.
“Eu sinceramente não acho que seja uma boa ideia,” eu disse um dia. O desenho geométrico do vestido estava pronto e pairava no não-espaço da tela do meu computador.
“E qual é o problema?” ela perguntou, segurando o pequeno protótipo que eu acabara de imprimir. “Acha que ele pode me machucar?”
“Não. Mas ele pode não se adaptar ao seu corpo.”
“Meu corpo?” ela perguntou com uma sobrancelha erguida. “E o que quer dizer com isso?”
Eu peguei o protótipo gentilmente de suas mãos e expliquei a ela sobre o que eu chamava de psicologia do híbrido, e como ele poderia recusar o contato com a sua pele.
“Não importa,” ela respondeu. “Eu quero que seja feito com esse tecido.”
“Você notou como ele se comporta perto de você, não é?” foi a única coisa que consegui dizer.
O projeto do vestido me tomou o trabalho de três meses — desde o CAD até o cultivo no biorreator. Quando finalmente ficou pronto, André me ajudou a retirá-lo do tanque e a enxugá-lo do resto da cultura de células. Eu tinha de me parabenizar. Havia ficado incrível. Sob a luz das lâmpadas, o vestido brilhava como uma armadura recém-saída do ferreiro, má e pronta para enfrentar o Sete-Peles no inferno. Lembro de Charlotte atrás de mim, os olhos brilhando como os de uma criança na manhã de Natal.
“Posso experimentar?” ela perguntou.
Eu a esperei do lado de fora do quarto. Quando a porta se abriu, a primeira imagem que me passou pela cabeça foi a de Elizabeth Taylor como Cleópatra ou Natalie Portman como a rainha Amidala, uma atriz destilando poder pelos olhos, envolta em um vestido-escultura.
Charlotte passou a mão pelo tecido, o brilho do híbrido lançando faíscas douradas e azuis. Ao contrário do que eu esperava, o híbrido parecia calmo, em movimentos suaves como um animal a respirar durante o sono. Parecia tudo bem até então.
No sábado, Charlotte estreou o novo vestido em uma performance que ela chamara de Clap! Clap! Para as crianças de Pyongyang. Suas performances, que já haviam se tornado a sensação da galeria Ninho, criavam sempre uma bolha de tensão nos minutos que as antecediam.
Eu aguardava no bar improvisado, fernet com Coca entre os dedos, e observava as pessoas, que também esperavam por Charlotte. Estavam todas em silêncio, os celulares iluminando seus rostos com uma luz barroca.
Ela apareceu diante de nós às nove horas. A primeira coisa que pude ver foi um pedaço do vestido despontar na lateral do palco, um movimento fluido e longo como o tentáculo de um polvo. O pé direito de Charlotte veio em seguida.
Envolta pela armadura do vestido, Charlotte ostentava um quepe militar sobre cabeça. Pyongyang, eu pensei, enquanto ela caminhava com passos curtos até o centro do palco.
Pude sentir a respiração das pessoas se prender quando o vestido abriu para os lados, como se duas asas azuis brotassem das costas de Charlotte; seu corpo, totalmente descoberto, exibia vídeos de um caça cortando os céus e o que me pareceu ser propagandas asiáticas de algum produto de limpeza. Seus braços esticaram e, a cada movimento, o vestido atuava como uma extensão, um movimento em delay dos músculos do seu corpo.
O vestido se fechou em torno da perna de Charlotte, a perna sem prótese, e ela se pôs a caminhar, ostentando duas próteses, uma verdadeira e outra falsa. Com os seios expostos, ela se assemelhou a uma deusa minoica das serpentes, e lançou um olhar possuído para a plateia.
Um pedaço do vestido flutuou por cima da cabeça das pessoas, atingindo uma das paredes da casa. A plateia se assustou, ao mesmo tempo em que estava extasiada com a performance de Charlotte. Vi soldados se jogando do seu corpo e um vídeo acelerado de um animal morto devorado por formigas. Quando encarei seu rosto, vi um olhar compenetrado e distante ao mesmo tempo.
Os vídeos em Charlotte aceleravam junto com seu corpo. Aos poucos, o vestido começou a envolvê-la, rodopiando à sua volta como um escudo azul.
Consigo ver ainda agora o momento em que um dos tentáculos saiu do redemoinho que Charlotte havia se transformado e acertou dois homens, fazendo-os cair no chão como sacos de cimento. Eles sangraram com o golpe.
Pânico se instaurou, e as pessoas correram para longe da performance, enquanto outros tentáculos alcançavam o ar. Vi os olhos de Charlotte por baixo do redemoinho de vento e tecido, seu rosto como um esboço apagado.
Gritei seu nome e tentei ir até ela, mas mãos fortes me puxaram para fora da galeria.
A maioria das pessoas já estava na rua, aglomeradas como um bando de animais amedrontados. Eu disse que precisávamos fazer alguma coisa, mas o bartender da mordaça balançou a cabeça para os lados. Uma energia vinha de dentro da casa, como um reator em crise.
Isso foi antes da luz.
As janelas dilataram e cuspiram estilhaços na calçada. Eu não podia acreditar no que estava vendo. Era como se dezenas de holofotes houvessem sido colocados no interior do prédio, lanças de luz varando a noite.
Eu esperei por uma explosão ou algo assim, mas não houve nada disso. Apenas um grande silêncio se seguiu, e eu pude ouvir a voz das pessoas ao meu redor e o som distante de um telefone.
Poucos minutos depois, voltamos para dentro do prédio. Charlotte havia simplesmente desaparecido. Entre murmúrios e comentários soltos, vi as pessoas encarando os celulares. Fiz o mesmo.
Por um momento, Charlotte apareceu ali, bem nas minhas mãos. Ela percorreu as telas de todos os celulares e, como um fantasma, desapareceu. Não havia nenhum suvenir dessa vez.
“Bruxa. Aquela mulher era uma bruxa, isso sim,” um homem comentou, apontando para o saguão onde minutos antes Charlotte se apresentara.
Eu olhei para os lados, ainda sem entender para onde ela poderia ter ido. Procurei nas outras salas da galeria, atrás de esculturas e até mesmo nos banheiros. Nenhum sinal. Era como se o ar a tivesse engolido, e ninguém parecia dar a mínima.
Encostada no bar improvisado, eu encarei o fernet com Coca que o barman colocou na minha frente. ´Cortesia da casa`, ele disse, ou pelo menos foi o que achei ter escutado. Era difícil se fazer entender com aquela mordaça na boca.
Beberiquei do fernet de leve, sentindo uma sombra de Coca, enquanto refletia sobre o significado das palavras que Charlotte tinha tatuadas sobre o pulso, palavras que eu li tantas vezes enquanto ela dormia.
“Memento mori,” sussurrei, sentindo o álcool evaporar na língua.
Memento mori.
Lembre-se da morte.
* * *
Semanas se passaram, até que, um dia, André disse que Charlotte havia voltado.
{Ela está se bronzeando na laje da pensão.}
Subi as escadas correndo e, ao chegar na sacada, dei apenas com a espreguiçadeira vazia. Não havia ninguém ali.
André apareceu ao meu lado e lançou um aceno para a espreguiçadeira.
{Viu? Você não precisava se preocupar,} André falou. {Eu disse que ela ia voltar.}
Eu desabei sobre ele, abraçando-o. Minhas lágrimas molharam sua carcaça fria.
 Michel Peres é professor, engenheiro, escritor e leitor. Natural de Matozinhos (MG), escreveu poesias que nunca passaram pelo crivo da gaveta e vive a desenvolver a sua mitologia pessoal (divertindo-se bastante com isso). Já teve artigos publicados no site Obvious e um conto na revista Trasgo.
Michel Peres é professor, engenheiro, escritor e leitor. Natural de Matozinhos (MG), escreveu poesias que nunca passaram pelo crivo da gaveta e vive a desenvolver a sua mitologia pessoal (divertindo-se bastante com isso). Já teve artigos publicados no site Obvious e um conto na revista Trasgo.