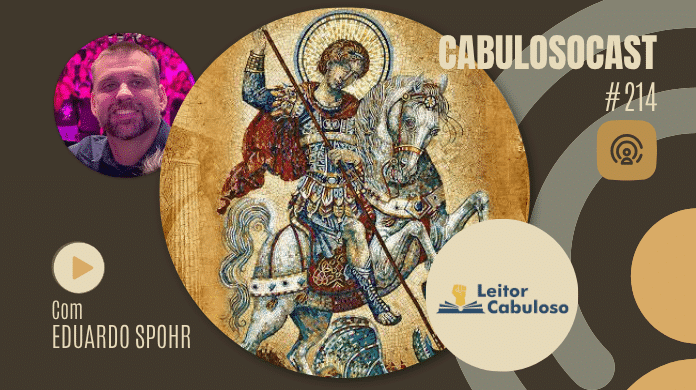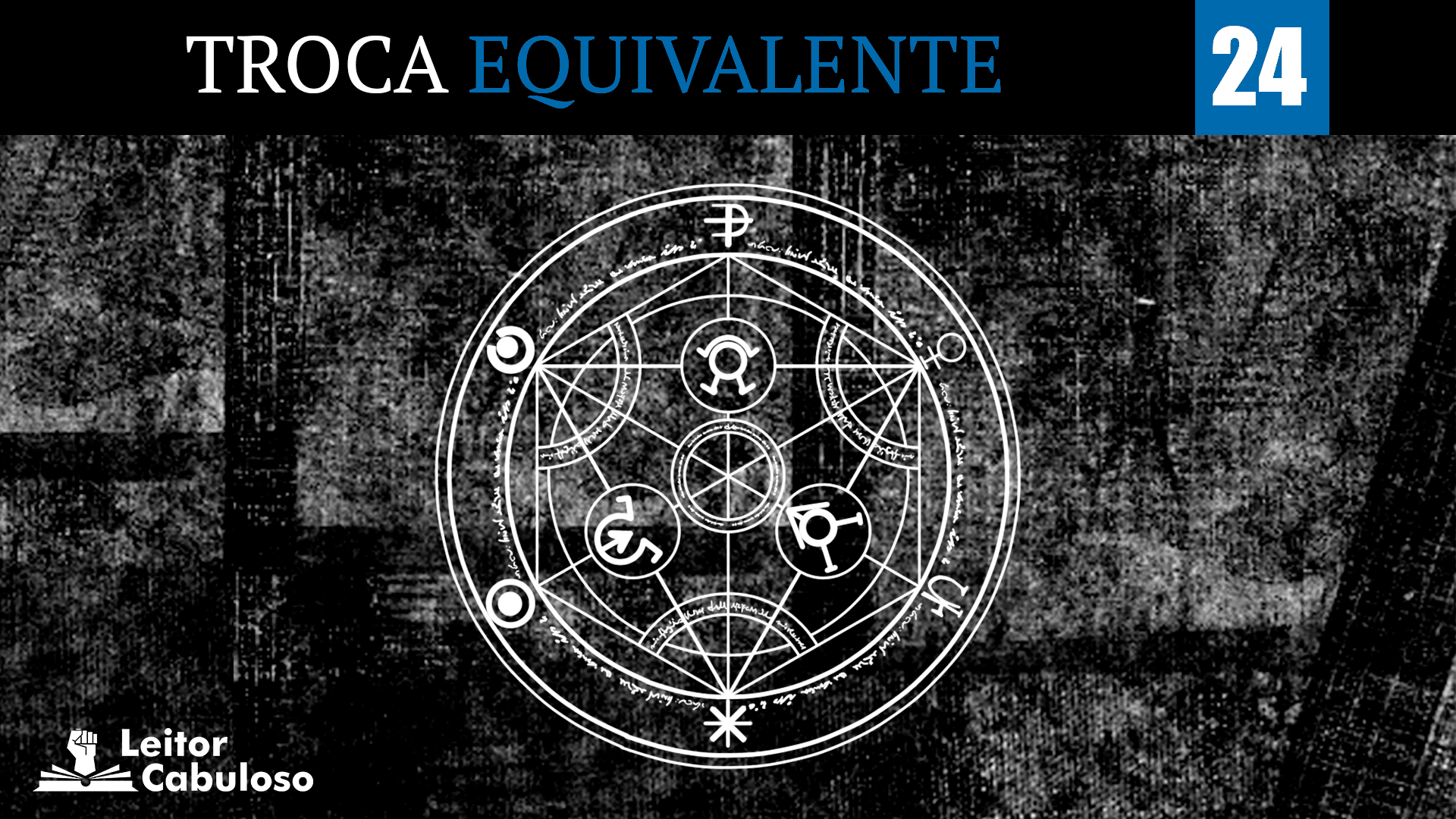A adolescente ocupa um assento na última fileira do saguão de espera, ciente dos olhares sobre ela. Desde menina, Eva sempre odiou hospitais. Claro que ninguém gosta de hospitais, mas Eva tinha boas razões para odiá-los. Esse ódio não é por causa do inconfundível cheiro de consultório, nem se devia ao ambiente pesado que costuma imperar no saguão de espera. O que realmente a perturba sempre que pisa em um hospital são os sussurros etéreos que ninguém mais pode ouvir, as nuvens infecciosas que só ela vê e, principalmente, os rostos dos novos mortos encarando-a.
Quando ia ao cemitério enterrar algum parente a sensação era mais amena. O espírito já havia tido tempo suficiente para entender sua condição. Num hospital, a coisa é diferente. Os recém-morridos ainda não compreendem que estão mortos, especialmente os jovens, e acabam confusos e agressivos; um comportamento que só piora se percebem que Eva os enxerga. Por isso, a adolescente prefere baixar a cabeça, fingindo não ver nada fora do comum.
Vez ou outra, a curiosidade e a preocupação falam mais alto e Eva arrisca um rápido olhar, procurando o rosto incorpóreo da mãe. Como não o vê, conclui aliviada que ela continua viva. Pobre mãe, pensa. Já sofre tanto por ter como filha uma maluca que vê coisas, ainda precisa passar por isso.
Eva nem consegue se distrair com o celular; sua mente fica repassando os eventos que a trouxeram ao hospital, certa de ser a culpada pelo mal súbito que acometeu a mãe.
A verdade é que a mãe de Eva nunca a compreendeu. Na época em que falava sobre o que via, muitos pensaram que fosse uma esquizofrênica sofrendo alucinações. Sua mãe a tomou simplesmente por mentirosa e, ainda hoje, a considera uma coisa esquisita, que fuma baseado e beija outras garotas.
Quando voltou da casa da namorada no meio da noite, Eva encontrou a mãe à sua espera e o tempo fechou. Há muito as duas não conseguiam conversar sem discutir, mas a briga dessa noite tinha sido a pior. No auge da discussão, a mulher começou a sentir-se mal sem aviso e desabou no chão.
Durante todo o trajeto da ambulância, Eva ficou com ela, segurando sua mão. Aquela mulher a odiava, mas ainda era sua mãe. Não queria que morresse.
Arriscou olhar em volta novamente. É alta madrugada e, além do pessoal do hospital, poucas pessoas encontram-se por perto.
Um arrepio transforma sua espinha num cubo de gelo.
Só precisa de um instante para perceber que a menina de vestido preto, cujos cabelos escondem as orelhas, é diferente das outras pessoas. E não como a própria Eva. Também não se trata de um espírito recém-falecido. Esses evaporam à medida que ela se aproxima, desfazendo-se em nuvens de vapor etéreo.
— Oi! Importa-se que eu me sente aqui? Meus pés estão me matando! — Sem esperar pela resposta, a menina ocupa o assento ao lado de Eva, descalça as sandálias e, tomando o cuidado de ajeitar o vestido para não mostrar demais, cruza os pés sobre as coxas finas para massageá-los.
Eva a examina de esguelha, pouco à vontade com a sua presença. Se fosse julgar apenas pela aparência, daria uns sete, talvez oito anos de idade. A voz fina condiz com o aspecto, mas ela se move com o despojamento dos adultos e seus olhos são escuros, sem brilho. Olhos que parecem ter testemunhado muito mais do que uma pessoa seria capaz de vivenciar em uma única vida. Não há nada de infantil neles.
— Veio levar minha mãe? — pergunta Eva por fim.
A menina esboça um sorriso.
— Como eu levaria alguém comigo? Enfiando dentro de um saco? Não, querida. Não levo ninguém a lugar nenhum.
O tom irônico irrita Eva e a deixa mais ousada.
— Quero saber se minha mãe vai morrer!
— É claro que sim. E você também. E aquele enfermeiro… Todo mundo irá morrer um dia.
— Esse dia é hoje?
— Não posso responder essa pergunta. Bom, na verdade posso, mas iria contra todos os meus instintos. — A menina mostra o pé direito. — Isso parece um joanete para você?
— Só me responde uma coisa: você é ela mesmo? Quer dizer, a Morte?
A menina se move no assento, ficando de frente para Eva, a cabeça apoiada no encosto.
— Você fala dessa maneira porque tenta me imaginar como uma pessoa cujo ofício é ser a Morte. Se quer saber, eu sou a manifestação antropomórfica de um aspecto primordial da natureza universal… Mas é, pode me chamar de Morte. Apesar de ser um eufemismo colossal, acredito que é o máximo que seja capaz de compreender.
— Não precisa ser grosseira! Eu não sou burra — rebate Eva.
— Peço desculpas se a ofendi. Não foi minha intenção.
— Falando desse jeito, ninguém vai entender mesmo.
— Façamos o seguinte: massageie meus pezinhos cansados e eu explicarei — diz a Morte, pousando os pés sobre as coxas de Eva. A adolescente olha desconfiada, mas começa a fazer sua parte. — Que mãos macias! Onde é que estávamos mesmo?
— Manifestação do universo…
— Ah, sim! Vejamos… Você deve ter brincado de soprar bolhas de sabão quando era criança. Pense na maior e mais bonita bolha de sabão que jamais soprou. Imagine-a pairando no ar, sem nunca cair, sem nunca estourar. Eterna… Imutável… Durando o tempo suficiente para vir a ser mais que uma mera bolha. Aos poucos, ela se torna consciente do que há em seu interior, da água, do ar e do sabão que a formam. O passo seguinte é ganhar consciência de tudo que está do lado de fora: o chão abaixo, o céu acima, a criança que a soprou, tudo. A bolha de sabão percebe estar isolada em si mesma. O que está dentro não pode sair, o que está fora não pode entrar. Existe uma única maneira da bolha de sabão tornar-se parte de toda a grandiosidade que a rodeia… Estourar. — A menina encara a adolescente como se fosse uma professora. — Entende a quê me refiro?
Eva interrompe a massagem nos pequenos e machucados pés da Morte e responde de forma insegura:
— Acho que é uma metáfora para o ciclo da vida. Nascer, crescer, morrer… Essas coisas.
— Boa resposta, apesar de incorreta. Refiro-me ao Big Bang, a Grande Explosão, o princípio do universo… Melhor dizendo, do processo que levou a esse evento. Refiro-me à bolha de sabão do Big Bang: a Singularidade. Consegue imaginar toda a matéria do universo comprimida em um ponto infinitamente pequeno e, ainda assim, ilimitado; existindo simultaneamente antes do início do universo e após seu final? O que para nós são paradoxos, era lugar comum para a Singularidade. Tratava-se de uma realidade diferente, com suas próprias leis da física. À sua maneira, a Singularidade foi eterna, comprimindo em seu interior tempo, espaço e toda a matéria existente.
Eva precisa de um esforço maior para continuar acompanhando o raciocínio.
— Quer dizer que não havia nada em volta? — indaga a adolescente.
— Havia algo sim: possibilidades. — O semblante da Morte ganha cor. Ela começa a gesticular com mais frequência. — Tudo aquilo que existia compunha a Singularidade, ao passo que tudo aquilo que poderia ser a rodeava. Um oceano infinito de destinos esperando para serem traçados. A Singularidade desejou ardentemente ser parte daquele oceano, deparando-se com um obstáculo gigantesco: sua própria natureza imutável. Para mudar, para estourar, a Singularidade precisaria abalar um dos pilares de sua realidade. Teria de operar um milagre, por assim dizer.
— E que milagre foi esse? — pergunta Eva.
— Uma anomalia. A maior de todas. Descomunal. Interminável. Um elefante na sala de estar do Cosmos… Entretanto, a Singularidade não previu que, na nova realidade, tudo existiria em pares opostos: claro e escuro, quente e frio, doce e amargo… No exato momento em que a anomalia surgiu, ela ganhou uma gêmea oposta.
A menina para de falar e cruza os braços, desafiando Eva a chegar a alguma conclusão sobre o que acabara de dizer.
— A vida e a morte! O que está dizendo é que a vida e a morte criaram o universo.
— Bingo! — a menina estala os dedos. — Vê? Sou um dos pilares que sustentam nosso universo. O próprio tecido da realidade não pode existir sem mim. Não há razão para me temer.
— Você nos tira as pessoas que amamos — Eva se emociona. — Meu pai era o único que me entendia, o único que não me considerava maluca. Aí um dia, um ônibus avançou o sinal vermelho e tirou ele de mim. Foi o mesmo que arrancar um pedaço do meu coração! Como espera que eu leve isso numa boa?
— Veja bem… — a Morte suspira e esfrega as têmporas, cansada. — Não há problema em ficar triste. O problema é não aceitar que a morte é parte da vida. Sou tão natural quanto respirar, comer ou gozar. Irá surpreender-se com o quanto se sentirá mais leve se aceitar o que digo.
Elas permanecem em silêncio por vários minutos. Eva meditando sobre tudo aquilo, a Morte desfrutando de sua massagem nos pés.
— Pode parar, querida. Obrigada — A menina se ajeita no assento e calça as sandálias. — Gostei de você, Eva! Posso fazer algo para agradecer pela massagem?
— Não vai mesmo me contar se minha mãe vai morrer hoje? — A Morte sorri. É claro que ela não vai dizer, pensa Eva. — Por acaso, você vai ficar desse tamanho para sempre ou vai crescer? Se envelhecesse… Bom, tenho mãos macias.
A menina se acanha.
— Eu dou um jeito na minha aparência. Estamos combinadas — a Morte salta do assento, se espreguiçando.
— Posso perguntar uma última coisa: por que você apareceu para mim? — questiona Eva.
— Pouquíssimas pessoas conseguem me ver; sempre paro para conversar quando encontro alguma delas. Vamos tentar nos encontrar a sós na próxima. A recepcionista do hospital acredita que você está falando sozinha.
A menina indica a mulher de meia-idade na recepção. Ela parece assustada e se vira assim que Eva olha para ela. A adolescente dá de ombros.
— Não importa. Todo mundo me acha maluca mesmo.
— Por acaso, cogitou a possibilidade de estar me imaginando? De eu ser apenas o produto de uma de alucinação?
— Duvido. Aquela conversa sobre bolhas de sabão e singularidades é metafísica demais para ter saído da minha cabeça. Além do mais, já comprovei que meu dom é de verdade. Na sexta série, eu soube que minha professora de matemática tinha câncer antes dela própria descobrir.
— Você via o câncer?
— Eu podia ouvir. Durante as aulas, eu ouvia o tumor a comendo por dentro, mas foi só no final do semestre que ela descobriu.
— Curioso. — A Morte encara Eva com uma suspeita no semblante e pergunta: — Por que sua mãe foi hospitalizada?
Eva pensa antes de responder. A verdade é que continua sem compreender o que sucedera com a mãe.
— Ela teve um… mal súbito esquisito. A gente estava discutindo, pra variar. De repente, apareceu uma mancha de sangue enorme na barriga dela, depois começaram a aparecer outras manchas no peito, no rosto, nos braços, em todo lugar.
— Haveria a chance de você estar segurando uma tesoura ou faca quando isso aconteceu?
Eva fica confusa.
— Não que eu me lembre. Mas falando em faca, acho que estávamos na cozinha.
— Compreendo. Sendo assim, tenho um conselho para você… — a Morte beija Eva na testa, como uma irmã mais velha. Em seguida, se inclina para sussurrar em seu ouvido: — Comece a correr.
Quando a adolescente levanta os olhos, está sozinha. A Morte desaparecera por completo. Só então percebe que suas roupas estão manchadas de sangue, assim como seu rosto. Assustada, procura ferimentos, sem encontrar nenhum. É o sangue da minha mãe, conclui. Não havia nada de estranho nisso. É óbvio que ficara manchada quando socorrera a mãe.
Ela sai do hospital para tomar ar. A brisa da madrugada é um pouco fria, mas agradável. Uma imensa tranquilidade toma conta de tudo… Até que Eva nota as luzes azuis e vermelhas refletindo na fachada dos prédios no final da rua.
Teve certeza que as luzes vinham por ela e esse pensamento pareceu retirar uma espessa névoa da frente de seus olhos. Compreendeu melhor todos os eventos daquela noite e soube que não queria estar por perto quando as luzes chegassem.
Começou a correr.
 Nascido em 1981, Joe de Lima sempre gostou de inventar histórias. Após um início trabalhando com fanzines em quadrinhos, passou a se dedicar à literatura. Publicou contos em antologias das editoras Infinitum, Literata e Buriti, na revista digital Nupo e no podcast Desleituras. Atualmente trabalha numa série de distopia young adult que já conta com dois volumes: Arcanista e Armamentista.
Nascido em 1981, Joe de Lima sempre gostou de inventar histórias. Após um início trabalhando com fanzines em quadrinhos, passou a se dedicar à literatura. Publicou contos em antologias das editoras Infinitum, Literata e Buriti, na revista digital Nupo e no podcast Desleituras. Atualmente trabalha numa série de distopia young adult que já conta com dois volumes: Arcanista e Armamentista.