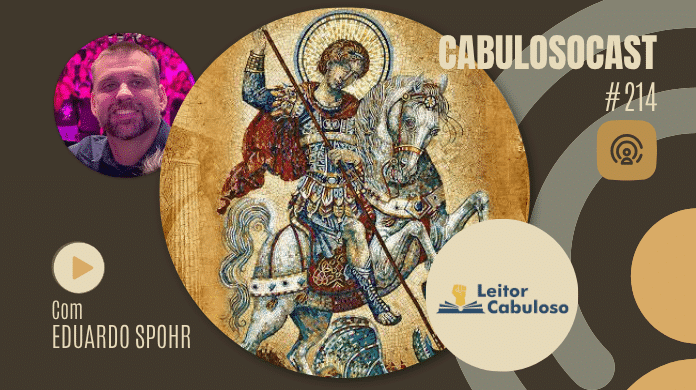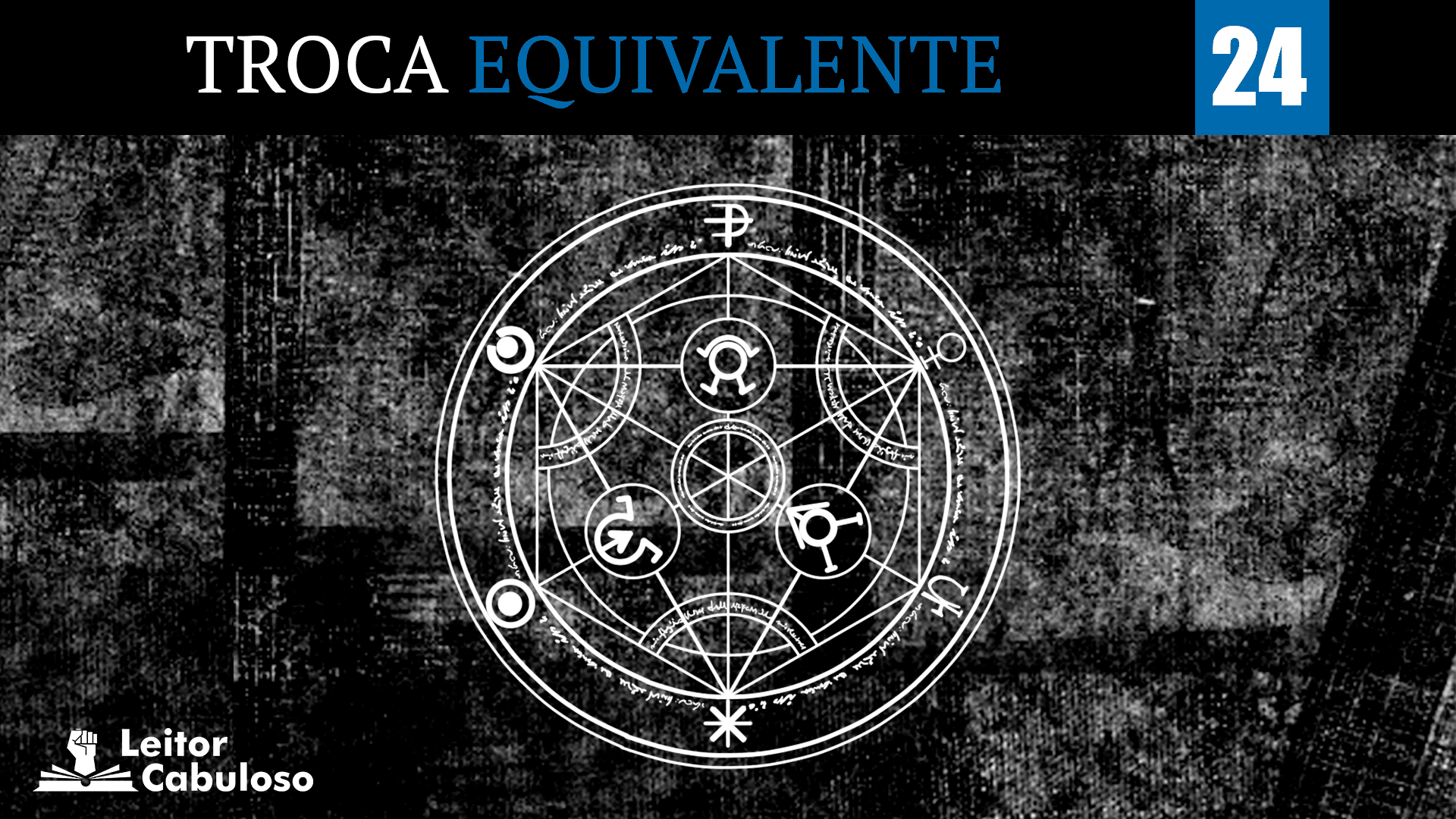James Joyce é um destes autores estranhos, porém, atemporais, eternos. É aquele homem que permanece marcado em seu país como uma espécie de sétimo selo de seu país. Uma bela porta de entrada para a Irlanda, diga-se de passagem. Sei que isso parece até algo muito simples, mas, ao final deste texto, talvez possamos compreender o quão majestoso é o ar que este autor, por meio da literatura, faz respirar.

Joyce nasceu em 02 de fevereiro de 1882 e faleceu em 13 de janeiro de 1941, um dia antes da data do meu aniversário. Autor do livro que por vezes é considerado um dos mais difíceis da literatura, Ulisses, Joyce foi rejeitado muitas vezes por editoras. Talvez também por isso, me faça pensar no que acabei de falar: o escritor como porta de entrada de seu país. E se ele divide, junto com uma gama de personalidades, a leitura das potências de Dublin, é a sua complexidade que o destaca no panteão de artistas desse país. Sem nunca deixar de apontar para o problema político do país, o conflito com os ingleses e a divisão entre protestantes e católicos, o imaginário do homem esguio desafia os linguistas de toda parte. Joyce é o único escritor a ter um de seus personagens como inspiração para uma data comemorativa: o Bloomsday, em referência ao personagem Leonard Bloom, de Ulisses. A data, comemora justamente o dia 16 de junho de 1904, localização etérea desse homem no famoso calhamaço de Joyce. Para muitos, como alguns amigos meus, J.J. (gosto de chamá-lo assim) é um dos autores mais chatos do mundo. E precisamos discordar veementemente disso.

Na recente história da Irlanda no século XX (e de Dublin), observamos grandes nomes questionadores, pessoas nos remetem ao heroísmo de cada país, o heroísmo de cada homem e de cada cidade. Para quem não conhece ou conhece pouco a história do Rock, recomendo altamente que escute a música do Thin Lizzy, banda do grande vocalista Phil Lynott, gênio viciado em heroína, filho de irlandesa com brasileiro, homem que viu muito e que sucumbiu às forças aterradoras que só a arte expressa. E aí é que Joyce não me sai da mente. Joyce, este filho da Irlanda, testemunha do herói, o Stephen Hero que se tornou Stephen Dedalus em O Retrato do Artista como Jovem, figura que retorna brilhantemente em Ulisses.

É exatamente este ser universal que a literatura frequentemente busca. Seja Lynott, o rockstar bêbado (e clone do Tiririca), filho de brasileiros e equilibrista (como Elis Regina) ou o artista que aflora no Retrato, todos eles tem no sangue o heroísmo do qual não podemos parar de falar, o herói que Freud diz todo homem é em seus sonhos. Quem descreveu tão belamente os fios dos postes vistos da cabine de um trem, linhas que daquele ponto de vista, não se diferenciavam em nada de uma partitura musical? Joyce, absolutamente, Joyce.
E se você pensa que Ulisses é um livro extremamente difícil, a pintura de um único dia constantemente incompreensível e inútil que se lê em uma semana (eu já ouvi isso de alguém!), é preciso que busque na filosofia de Gilles Deleuze algum alento.

Segundo este pensador francês, a obra de Joyce é a obra da diferença e da repetição, pois, de um modo geral, livros gigantescos como Finnegans Wake expressam uma peculiar paixão entre o caos e o cosmos:
Joyce apresenta o vicus of recirculation como aquilo que faz girar um caosmos; e Nietzsche já dizia que o caos e o eterno retorno não eram duas coisas distintas, mas uma mesma afirmação. O mundo não é finito, nem infinito, como na representação: ele é acabado e ilimitado.
Por isso, meus amigos, faço que questão de deixar claro que Joyce não é um autor fácil, muito menos difícil. Joyce é o canto “tralalá traladona” artista quando jovem, assim como o diabo e todos os seus neologismos que enroscam as partes da existência umas nas outras. Joyce é uma Música de Câmara, é um acoplar-desacoplar de palavras, que é, enfim, nada mais que o mundo, nu e cru mundo.


![[Coluna] A bomba debaixo da mesa: Carrie! Montagem com uma pelicula de filme na horizontal, mostrando dois frames, o da esquerda mostra um recorte de um cena do filme "Carrie, A Estranha" de 1976, onde está a personagem Carrie, vista do busto pra cima, ela está coberta de sangue, e com olhar assustador, em um fundo azul escuro. No frame da direita está um recorte da capa do livro Carrie, edição da Suma das Letras, em tom rosa, a capa mostra o rosto de Carrie, no topo o nome do autor "Stephen King" em branco, e sangue vermelho escorre pela capa.](https://leitorcabuloso.com.br/wp-content/uploads/2022/06/Carrie-Vitrine-Coluna-Filme-Livro-Site-696-390-ok-218x150.jpg)
![[COLUNA] Gekkan Shoujo Nozaki-kun (Anime) Fundo branco. Da esquerda para a direita: Rapaz de cabelo roxo, sueter e gravata verde calça azul encarando garota loira de agazalho cinza e saia preta. Garota Ruiva com laços vermelhos de bolinhas brancas, agazalho cinza, saia e meia fina pretas segurando um esfregão que parece um pincel sujo de tinta vermelha. Rapaz alto olhando para a esquerda com agazalho cinza, gravata vermelha e calça preta segurando um pincel. Rapaz de cabelo vermelho segurando uma rosa com uma camisa branca e calça preta. Rapaz de cabelo marrom, camisa azul, gravata e calça azul escuras segurando uma regura em cada mão. Garota de cabelo azul, casaco preto, saia azul segurando uma espada cenografica.](https://leitorcabuloso.com.br/wp-content/uploads/2022/06/Coluna-Gekkan-Shoujo-Nozaki-kun-Site-696-390-218x150.jpg)

![[Coluna] Agente Carter – Primeira Temporada Vitrine da coluna. Em primeiro plano, no centro, o postêr da série Agente Carter, que mostra a personagem de vestido azul, chapéu vermelho escondendo o rosto e segurando uma arma, boa parte de sua imagem é coberta pelas sombras, e o fundo é escuro, à fentre dela está o título da série "Marvel - Agent Carter". No fundo da vitrine, um recorte da capa de uma história em quadrinhos que mostra Carter apontando uma arma segurando com as duas mãos, o desenho é em tons cinzas e com as cores vermelha e branca da bandeira americana no fundo.](https://leitorcabuloso.com.br/wp-content/uploads/2022/03/AgenteCarter-Site-696-390-218x150.jpg)
![[Coluna] Diga o seu nome Montagem com uma pelicula de filme na horizontal, mostrando dois frames, o da esquerda mostra um recorte do postêr do filme "Candyman" que mostra o personagem do título, um homem negro de costas com um casaco escuro e um ganho no lugar da mão e uma abelha pousada no gancho, e o título do filme em amarelo. No frame da direita está a capa do livro "Candyman" da Dark Side Books, onde mostra uma colméia de abelhas no fundo e em primeiro plano o nome do autor Clive Barker e o título do livro.](https://leitorcabuloso.com.br/wp-content/uploads/2022/01/Candyman_Vitrine-Coluna-Filme-Livro-Site-696-390-ok-218x150.jpg)