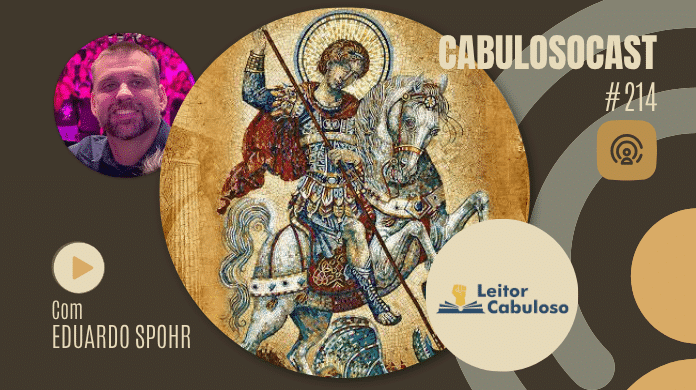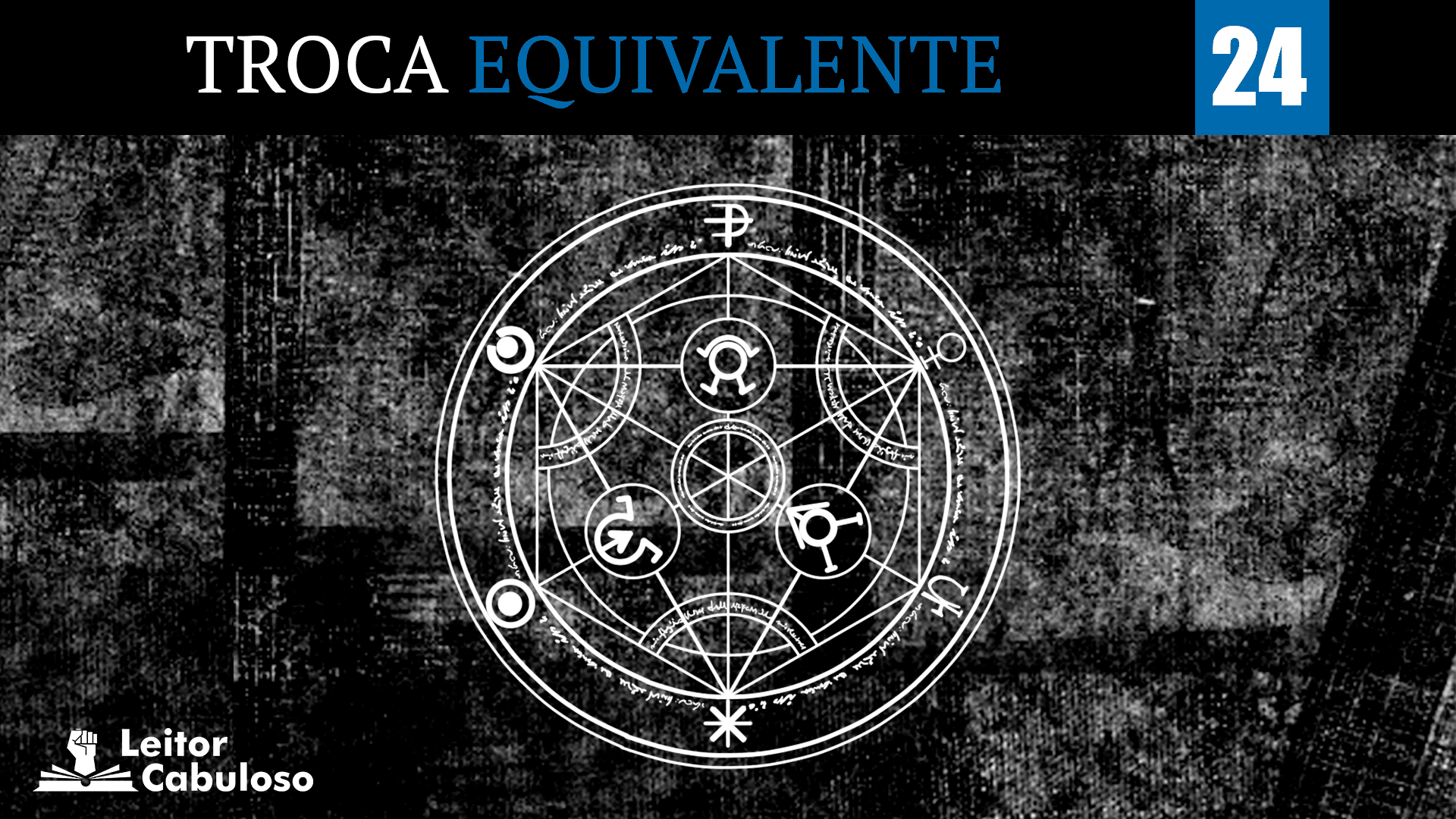Não, meu caro leitor cabuloso… você não leu errado, tampouco enlouqueceu este que vos escreve – bem, ao menos não ainda. A poesia não serve pra nada, mesmo! É inútil! I-NÚ-TIL! E antes que você, caro leitor, decida fechar o post na minha cara achando que está na categoria errada (não está não! Ei, psiu! É aqui mesmo: POESIA!) ou que estou xingando gratuitamente, vamos aos devidos esclarecimentos.
Não, meu caro leitor cabuloso… você não leu errado, tampouco enlouqueceu este que vos escreve – bem, ao menos não ainda. A poesia não serve pra nada, mesmo! É inútil! I-NÚ-TIL! E antes que você, caro leitor, decida fechar o post na minha cara achando que está na categoria errada (não está não! Ei, psiu! É aqui mesmo: POESIA!) ou que estou xingando gratuitamente, vamos aos devidos esclarecimentos.
“A poesia é inútil”, foi dito aqui e, acredito eu, em certas ocasiões todos já ouviram falar. Acontece que essa polêmica sentença pode ser compreendida (ou incompreendida) de duas maneiras. A primeira nos salta aos olhos e faz eles saltarem e diz respeito mais ou menos àquilo que convém chamar de senso comum. É a ideia de inutilidade como “algo que não presta”, “não serve pra nada”, o que não possui uso prático.
O segundo modo de compreensão compete ao sentido poético do fato (acho que assim podemos dizer). E no sentido poético, meus caros, ah… no sentido poético as coisas são muito mais do que elas são. As definições dicionaristas, criteriosas, rigorosas e sisudas não se sustentam por si só, não dão conta das coisas apenas com “o que elas querem dizer.” O que seria, afinal, a inutilidade (especialmente a inutilidade da poesia) no modo poético de ser?
O poeta curitibano Paulo Leminski já dissera, em certa ocasião:
“As pessoas sem imaginação estão sempre querendo que a arte sirva para alguma coisa. Servir. Prestar. O serviço militar. Dar lucro. Não enxergam que a arte é a única chance que o homem tem de vivenciar a experiência de um mundo da liberdade, além da necessidade. As utopias, afinal de contas, são, sobretudo, obras de arte. E obras de arte são rebeldias.
A rebeldia é um bem absoluto. Sua manifestação na linguagem chamamos poesia, inestimável inutensílio.”
É em nossa infância mais primitiva que somos mais poetas do que em qualquer outra fase de nossas vidas. Quando crianças, perguntávamos qual o sentido de brincar com gravetos, de se lambuzar na lama ou de espetar insetos? Acaso indagávamos ao sol porque ele afagava tão gostoso nosso rosto pela manhã ou questionávamos um delicioso e travesso banho de chuva? Não, apenas sentíamos essas coisas e nos sentíamos juntos, nelas. Com elas, por elas e para elas. Sem quê nem por quê. Estávamos em comunhão com o mundo, vivíamos poesia a cada momento, todos os dias, em cada coisa. Quando crescemos é que separamos as coisas. Nosso primeiro erro: divorciarmo-nos do mundo, das coisas e da essência de tudo da qual comungávamos. Sujeito e objeto já não são mais um só – herança cartesiana reafirmada no Iluminismo e, posteriormente, com o positivismo. E nessa divisão fria de bisturi esterilizado vamos deixando passar a poesia nossa de cada dia. Vamos prezando cada vez mais pelos “porquês”, pela causa de todos os efeitos que já não parecem causar mais nada. Vamos procurando utilidade pra tudo e só enxergamos validade naquilo que é útil, que vai dar dinheiro, que tem meta, objetivo final, consumação e… fim.
Perdemos não apenas a pausa para a brincadeira, para tomar o sol na cuca, a chuva e o vento na cara – pior, mil vezes pior: perdemos o gosto por isso! Isso não mais nos interessa, porque “isso não leva a nada” e “é melhor procurar o que fazer!” E a poesia, naquela primeira acepção, é arte de vagabundo, ofício de inútil já que não se enquadra nos padrões pragmáticos totalitários de uma sociedade na qual tudo deve possuir um fim, num mundo de utilitarismo sufocante que castra aquela liberdade citada por Leminski – a liberdade que o mundo nos relegou e só se faz possível resgatar por meio da arte. Para isso, caro leitor, temos que nos despir da paranoia da utilidade. Como eu fiz, agora há pouco: parei de revisar um importantíssimo artigo jurídico que vai me render alguns trocados para o mês, pra poder vir até aqui… escrever inútil e alegremente sobre poesia – um texto que poucos lerão, compreenderão e viverão. Em suma: uma coisa inútil, mas vital.
“As várias prosas do cotidiano e do(s) sistema(s) tentam domar a megera. Como o radical incômodo de uma coisa in-útil num mundo onde tudo tem que dar um lucro e ter um por quê. Pra que por quê?” (Paulo Leminski)
Enquanto traço estas linhas, ocorre-me agora a lembrança de algo que era comum em minha infância. Quando era pequeno assistia com muita frequência desenhos animados ou filmes fantasiosos. Vez ou outra, minha mãe estava por perto – às vezes varrendo a sala e passando em frente à televisão. No momento em que ela via alguma cena delirante, fantástica e surreal, como um gato levando uma cacetada, comprimindo-se todo e voltando ao seu tamanho normal igual uma sanfona de cauda, ou um garoto que voava mesmo sem ter asas, caía e não se machucava, voltava-se para mim e dizia: “Mas que mentira!” Eu ficava visivelmente zangado com o fato e dizia: “Ora, se quer a verdade é melhor assistir telejornais.” Não lembro bem se minha resposta tem algo a ver com o fato de uma orelha minha ser maior que a outra, mas, bem… essa é outra história.
De qualquer modo, o que quero dizer é: sim, vivemos no mundo real, com coisas reais em volta. Temos que fazer uma série de “coisas úteis” pra podermos sobreviver. Mas, como escreveu Ulisses Tavares:
“A realidade da vida, em si mesma, não se sustenta.
O ser humano é mais que um organismo que precisa de comida, roupa, sono e ar.
As pessoas são famintas de carinho, ficam frias sem o cobertor da esperança, não dormem direito apenas com os braços de travesseiros, e querem, sempre, voar nos pensamentos. Respirar não basta, não preenche. Queremos inspiração para criar, amar, repartir. Aspiramos ser um outro ser, o que não somos podemos imaginar. “
De quê adianta garimparmos ouro falso? De quê serve buscarmos, cada vez mais e mais, uma série de “coisas úteis” – carro, dinheiro, sucesso, boate, sexo – e, no fim de tudo nos encontrarmos sós, desamparados e percebermos que tudo aquilo que almejávamos in concreto, depois de tudo tornou-se… inútil?
Só a arte salva, já dizia Schopenhauer. E para sermos salvos (principalmente da sufocante mediocridade da realidade mesquinha e da irracionalidade de um mundo totalmente racional), devemos retornar às coisas, tal como fazíamos em nossas infâncias. Precisamos ser poetas. Mas, isso só se fará possível se antes retornarmos para o nada. Lembremo-nos do que falou o poeta Manoel de Barros, no pretexto de sua obra mais sublime, Livro sobre Nada.
“O que eu gostaria de fazer é um livro sobre nada. Foi o que escreveu Flaubert a uma sua amiga em 1852. Li nas Cartas exemplares organizadas por Duda Machado. Ali se vê que o nada de Flaubert não seria o nada existencial, o nada metafísico. Ele queria o livro que não tem quase tema e se sustente só pelo estilo. Mas o nada de meu livro é nada mesmo. É coisa nenhuma por escrito: um alarme para o silêncio, um abridor de amanhecer, pessoa apropriada para pedras, o parafuso de veludo, etc, etc. O que eu queria era fazer brinquedos com as palavras. Fazer coisas desúteis. O nada mesmo. Tudo que use o abandono por dentro e por fora.”
Quando enxergarmos “utilidade” no “inutensílio” da arte, da poesia… quando voltarmos para o deleite de um mundo que aprecia as sublimidades e quintessências, o nada, poderemos por fim encontrar os tudos.
Poetize!


![[Coluna] A bomba debaixo da mesa: Carrie! Montagem com uma pelicula de filme na horizontal, mostrando dois frames, o da esquerda mostra um recorte de um cena do filme "Carrie, A Estranha" de 1976, onde está a personagem Carrie, vista do busto pra cima, ela está coberta de sangue, e com olhar assustador, em um fundo azul escuro. No frame da direita está um recorte da capa do livro Carrie, edição da Suma das Letras, em tom rosa, a capa mostra o rosto de Carrie, no topo o nome do autor "Stephen King" em branco, e sangue vermelho escorre pela capa.](https://leitorcabuloso.com.br/wp-content/uploads/2022/06/Carrie-Vitrine-Coluna-Filme-Livro-Site-696-390-ok-218x150.jpg)
![[COLUNA] Gekkan Shoujo Nozaki-kun (Anime) Fundo branco. Da esquerda para a direita: Rapaz de cabelo roxo, sueter e gravata verde calça azul encarando garota loira de agazalho cinza e saia preta. Garota Ruiva com laços vermelhos de bolinhas brancas, agazalho cinza, saia e meia fina pretas segurando um esfregão que parece um pincel sujo de tinta vermelha. Rapaz alto olhando para a esquerda com agazalho cinza, gravata vermelha e calça preta segurando um pincel. Rapaz de cabelo vermelho segurando uma rosa com uma camisa branca e calça preta. Rapaz de cabelo marrom, camisa azul, gravata e calça azul escuras segurando uma regura em cada mão. Garota de cabelo azul, casaco preto, saia azul segurando uma espada cenografica.](https://leitorcabuloso.com.br/wp-content/uploads/2022/06/Coluna-Gekkan-Shoujo-Nozaki-kun-Site-696-390-218x150.jpg)

![[Coluna] Agente Carter – Primeira Temporada Vitrine da coluna. Em primeiro plano, no centro, o postêr da série Agente Carter, que mostra a personagem de vestido azul, chapéu vermelho escondendo o rosto e segurando uma arma, boa parte de sua imagem é coberta pelas sombras, e o fundo é escuro, à fentre dela está o título da série "Marvel - Agent Carter". No fundo da vitrine, um recorte da capa de uma história em quadrinhos que mostra Carter apontando uma arma segurando com as duas mãos, o desenho é em tons cinzas e com as cores vermelha e branca da bandeira americana no fundo.](https://leitorcabuloso.com.br/wp-content/uploads/2022/03/AgenteCarter-Site-696-390-218x150.jpg)
![[Coluna] Diga o seu nome Montagem com uma pelicula de filme na horizontal, mostrando dois frames, o da esquerda mostra um recorte do postêr do filme "Candyman" que mostra o personagem do título, um homem negro de costas com um casaco escuro e um ganho no lugar da mão e uma abelha pousada no gancho, e o título do filme em amarelo. No frame da direita está a capa do livro "Candyman" da Dark Side Books, onde mostra uma colméia de abelhas no fundo e em primeiro plano o nome do autor Clive Barker e o título do livro.](https://leitorcabuloso.com.br/wp-content/uploads/2022/01/Candyman_Vitrine-Coluna-Filme-Livro-Site-696-390-ok-218x150.jpg)